Pollan mergulha em mescalina, ópio e cafeína com novo livro sobre a mente
Escrevo esta resenha de “This is Your Mind on Plants” (Esta é a Sua Mente Sob Efeito de Plantas), de Michael Pollan, após três canecas de café e duas xícaras de chá preto. São 9h da manhã, e já vou dando exemplo de dependência do psicoativo mais usado no mundo –90% da população do planeta usa cafeína, informa o autor de outro best seller sobre inebriantes, “Como Mudar Sua Mente” (ainda não há previsão de lançamento da nova obra no Brasil).
Releve a repetida apelação marqueteira a “sua mente”, pois, embora se trate do que acontece em nossas cabeças, o livro destoaria numa prateleira de auto-ajuda. Seu foco não recai sobre muitos conselhos para enfrentar perrengues comezinhos, mas sobre três substâncias com efeitos paradoxais na mente (ópio, cafeína e mescalina) e ilumina uma pergunta desconcertante: por que nos intoxicamos?
Por coerência com o tema desta página e da obra anterior de Pollan, a acuidade mental propiciada pelo estimulante matutino sugere começar pelo psicodélico mescalina, terceira e última planta investigada no volume. Uma maneira também de fazer justiça ao primeiro “enteógeno” (mais sobre esse termo à frente) a estrear na literatura ocidental, com “As Portas da Percepção” de Aldous Huxley (1954).
Pollan enfrenta o composto originário dos cactos peiote (Lophophora williamsii, v. foto) e San Pedro (ou wachuma, gênero Trichocereus) com duas ferramentas afiadas de seu instrumental jornalístico, a pesquisa soberba e o testemunho de vivências pessoais. A primeira, porém, difere um tanto dos resultados em “Como Mudar Sua Mente”, pois passa quase ao largo das informações sobre farmacologia, testes clínicos e neurociência de psicodélicos, em favor da história e da antropologia.

A mescalina, diz o autor, é provavelmente o psicodélico de emprego mais antigo por humanos. Seu uso ancestral por povos do sul da América do Norte e dos Andes pode ter começado há milênios, e já no século 17 foi proscrito pelo colonizador espanhol: em 1620 a Inquisição no México declarou o peiote uma “perversidade herética” e moveu 90 processos contra usuários até o fim do século 18.
Como de hábito, a proibição só logrou lançar o cacto na clandestinidade, e ele retornaria com a força do reprimido um século depois, como sacramento de uma nova religião libertadora. Após a dizimação dos habitantes originais da América do Norte, que teve seu clímax no massacre de dakotas em Wounded Knee (1890), vários povos indígenas confinados em reservas criaram a sincrética Native American Church, denominação também conhecida como peiotismo.
Aqui se apresenta a tese mais forte do livro, à guisa de resposta oblíqua para a questão de fundo sobre por que nos se intoxicamos: plantas portadoras de moléculas psicoativas, em geral alcaloides de gosto amargo que na origem podem ter sido adaptações para afugentar herbívoros, entram numa espiral de coevolução com humanos, parceria que favorece a propagação das primeiras e provê os últimos com recursos para intensificar modalidades da consciência que possam ajudá-los a se manterem vivos. No caso do peiote, permitir a sobrevivência cultural após o trauma da colonização.
No centro do peiotismo estão rituais de cura em torno de uma fogueira dentro das tendas “teepees”. Pollan tenta desvendar o que ocorre ali sob efeito do cacto, mas esbarra na impossibilidade de viagens com a pandemia de Covid-19 e na resistência dos praticantes à apropriação cultural do sagrado pelo homem branco, mesmo um jornalista antropologicamente correto como ele, que terá de se contentar com outro tipo de cerimônia bem californiana, mas de inspiração andina.
A repulsa da igreja a levantar o pano da “teepee” levou a uma escaramuça com o movimento Decrim Nature. O grupo tem conseguido convencer governos subnacionais dos EUA a descriminalizar as chamadas plantas de poder, os “enteógenos” (reveladores da divindade interior), ou pelo menos tirá-las do foco da repressão policial.
Embora seja o agrupamento muito respeitoso do uso tradicional de cogumelos, cactos e arbustos psicoativos, Decrim Nature recebeu da igreja a demanda para retirar o peiote da lista de organismos cujo poder não caberia ao Estado regular, sob pena de afrontar a liberdade religiosa e individual. A igreja teme que o peiote, já ameaçado de extinção nos poucos locais onde cresce naturalmente, ganhe mais popularidade em meio ao renascimento psicodélico e desapareça de seu habitat.
Pollan se encontrou antes com a substância pura, a mescalina sintetizada desde 1919, após ter sido isolada do cacto em 1897 (a Native American Church não repudia sintetizar o composto, só o consumo da planta sagrada por não membros e o cultivo em estufas). Sua experiência pessoal ecoa a ampliação quase acachapante da percepção, já descrita por Huxley, e oferece pistas sobre o potencial libertador de que se valeram indígenas norte-americanos.
A mescalina age lentamente, e a viagem que propicia pode durar 14 horas. Após aguardar mais de uma hora pelo efeito, na companhia de um livro, Pollan conta que em certo ponto a leitura passou a lhe parecer uma coisa absurda, inútil. Sentiu-se inundado pela realidade circundante, só tinha olhos para o que estava à mão ou no campo de visão, sem necessidade de mais nada além de contemplar.
Essa vivência não soa estranha para quem já viajou com psicodélicos como LSD ou cogumelos (psilocibina). Eles também aguçam a visão para cores e detalhes, sobretudo de objetos e seres naturais, que aparecem revestidos de um significado transcendental a que o psiconauta ganha acesso por obra e graça da substância.
No entanto, da descrição de Pollan parece sobressair uma diferença crucial da mescalina: o mergulho daria acesso às próprias coisas, à maravilha e ao espanto de sua mera existência. E não a um sentido oculto revelado, significados emanados e projetados da própria mente, o que um neurocientista talvez chamasse de saliência aberrante desencadeada pelos psicodélicos.
Nos vislumbres que colheu de praticantes do peiotismo, o jornalista ouviu mais de uma vez a comparação do cacto com um espelho, ou como uma entidade que vê dentro ou através da pessoa em busca de cura e lhe apresenta o que ela precisa enxergar. Ou seja, a realidade das coisas da biografia (traumas incluídos) como elas são, não como as explicamos ou revestimos de sentidos e sofrimentos, o que facilitaria a aceitação e a libertação –individual ou coletiva, no contexto da religião.
Essa aproximação entre o efeito individual (biográfico, psíquico) e o efeito coletivo (cultural, histórico) não é trivial de construir, mas Pollan tece a trama de modo convincente. Com sutileza e nuance, passa longe de narrativas pretensiosas como a do “macaco chapado”, hipótese propagandeada entre outros por Paul Stamets para explicar a própria emergência de faculdades conscientes em seres humanos, de maneira inverificável, como produto da coevolução com cogumelos alucinógenos.
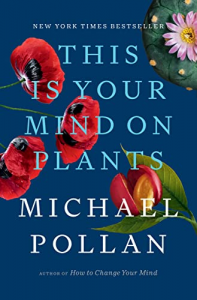
Verdade que a atribuição de superpoderes históricos a compostos psicoativos funciona melhor com envolvimento da mescalina com a Native American Church. No caso da cafeína presente no café (Coffea sp.) e no chá preto (Camellia sinensis), sua emergência como bebidas globalizadas em paralelo com a Revolução Industrial e o Iluminismo pode não ser mais do que isso, uma coincidência.
Ainda assim, os indícios colhidos por Pollan na bibliografia acadêmica conferem, sim, alguma verossimilhança para a tese de que o estimulante favoreceu a adequação dos ritmos biológicos humanos à cadência do trabalho em máquinas e dos turnos em fábricas. Ou, ainda, a de que os cafés parisienses e londrinos tenham fomentado a moderna opinião pública e debates guiados pelo racionalismo, com a substituição do álcool dionisíaco pela beberagem apolínea.
No primeiro capítulo, o escritor escala a flor inocente da papoula (Papaver somniferum) e o demonizado ópio dela obtido para evidenciar a arbitrariedade do proibicionismo, que interfere no relacionamento milenar de culturas com determinadas plantas, ao sabor de acidentes históricos. Hoje o álcool destilado de vegetais está liberado; ópio e até papoulas são criminalizados, mas entre 1920 e 1933 se dava o oposto nos EUA: vender álcool era crime, mas não o láudano (tintura de ópio usada como sedativo).
Em realidade, ainda hoje a situação do ópio, de sua fonte e seus derivados se mostra para lá de ambígua. Sementes de papoula são vendidas livremente em terras americanas, para uso em padarias e jardins, mas é proibido fazer chá com elas ou com as cápsulas que crescem no canteiro após a queda das pétalas. Segundo outras interpretações legais obtidas por Pollan, até mesmo germinar as sementes compradas e cultivar as flores seria ilegal.

Neste ponto o livro traz uma de suas narrativas mais kafkianas, sobre o jornalista amante da jardinagem que se viu constrangido a cortar de um artigo de revista, por aconselhamento de advogados, trechos em que contava suas experiências com a planta e os efeitos. As passagens autocensuradas só vieram à luz agora, no volume, um quarto de século depois, com a prescrição do possível delito.
Enquanto esses parágrafos ficaram num disco rígido, os EUA se debatiam com a comercialização desenfreada de opioides sintéticos que desencadeou uma epidemia de overdoses, matando 50 mil pessoas por ano. Em 1º de setembro foi dissolvida a empresa Purdue Pharma, que lançou em 1995 o analgésico OxyContin (oxicodona), e a família proprietária Sackler pagou US$ 4,5 bilhões (R$ 25 bilhões) em acordo para sustar processos (em 2011 o faturamento com a droga alcançara US$ 3,4 bi).
Pollan sobreviveu bem ao chá caseiro de papoula, não sem lamentar que o lenitivo tradicional tenha ficado proibido enquanto os Sacklers se safaram sem muita dor. Pelo que conta, duro mesmo foi abster-se de café por três meses, outro autoexperimento que resultou em perceptível perda de concentração e produtividade –e esta resenha constitui prova material de que a cafeína, mesmo não tendo propelido sozinha iluminismo ou fordismo, certamente tem fornecido combustível decisivo para o jornalismo.
Por que nos intoxicamos, afinal? Pollan diria, tentativamente, que o fazemos para alterar a textura da consciência, manipulando a malha do filtro com que coamos o caldo grumoso a jorrar dos sentidos para preparar o elixir de uma vida melhor.
Leia mais sobre psicodélicos no livro:


